Linguagem neutra e fascismo
LINGUAGEM NEUTRA E FASCISMO
Quarta, 22 Março 2023

Num texto breve e de tom moderado (https://www1.folha.uol.com.br/colunas/lygia-maria/2023/02/o-sexo-das-palavras.shtml, Lygia Maria, apresentada como mestre em Jornalismo pela UFSC e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC/SP, aborda, pela enésima vez na imprensa só este ano, a questão da linguagem neutra. O título é pouco feliz (“O sexo das palavras”), porque as palavras não têm sexo, têm gênero — e a confusão entre sexo e gênero, como se sabe, é fonte de muitos equívocos ou, pior, de atitudes sociais que, hoje em dia, se vinculam a toda sorte de violência fascista (vide as ameaças de morte que as pessoas trans eleitas para cargos legislativos recebem da parte dos criminosos que se sentiram legitimados em sua ânsia assassina pela ascensão ao poder do maior delinquente da história do Brasil). Mas querer distinguir as duas coisas é cometer “ideologia de gênero”, outra estupidez semeada e regada por esses mesmos criminosos.
Esses equívocos imperam até mesmo no (nada inocente) ensino de língua. Quantas vezes ouvimos dizer que vaca é o “feminino” de boi? Não é. A noção de gênero, na gramática, se relaciona com a morfologia, isto é, com a formação das palavras da língua (e não com o sexo dos animais). Gata é o feminino de gato, mas vaca não é o feminino de boi: é uma forma supletiva, não deriva da mesma raiz. A esse respeito (e para mostrar que as ideologias que circulam na sociedade estão devidamente impregnadas nos modos de abordar a língua), é interessante observar que, no Dicionário Houaiss, a primeira definição dada a vaca é “fêmea do boi”, enquanto para boi o que se encontra é “designação comum aos mamíferos artiodáctilos do gên. Bos, da fam. dos bovídeos...” etc. Não é curioso que o boi não seja definido como “macho da vaca”? O mesmo dicionário define mulher como “indivíduo do sexo feminino”, sem informar de que espécie (afinal, uma vaca também é um indivíduo do sexo feminino da família bovídea), enquanto homem é “mamífero da ordem dos primatas, único representante vivente do gên. Homo, da sp. Homo sapiens” etc.
Durante dois mil anos, todos os dicionários e gramáticas foram escritos por homens: não admira, portanto, que o masculino tenha sido considerado desde sempre como o básico, o princípio, o óbvio, o natural... a norma. O feminino é que constituía (constitui) um “ponto fora da curva”, um “desvio” ou qualquer coisa assim. O sexismo enraizado em praticamente todas as sociedades ao longo da história, e chancelado pelas grandes religiões, não podia deixar de comparecer no tratamento da linguagem. Já ouviram falar daquela oração dos judeus que começa assim: “Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que não me fizeste mulher”? Pois é... O próprio termo Deus, no masculino, é indício dessa antiquíssima misoginia.
O breve texto de Lygia Maria, sem dúvida bem-intencionado, tropeça em mais de uma concepção tradicional de língua, daquelas que, de tão repetidas, se cristalizaram como verdades quando, de fato, são construtos ideológicos. Afirma que a comunidade LGBTQIAPN+ “considera a língua como manifestação simbólica de opressões sociais” porque “a língua segrega e ofende”. Não se trata de “considerar”: a língua é, sim, instrumentalizada para oprimir, discriminar e violentar grupos sociais, etnias e até populações inteiras. A articulista provavelmente não gostaria de se ver apresentada como doutor em Comunicação e Semiótica, como constava até recentemente nos diplomas das mulheres. Foi Dilma Rousseff quem sancionou uma lei (em 2012) que obriga a flexão no feminino dos títulos acadêmicos e profissões. A mesma Dilma Rousseff em torno da qual circulou uma polêmica idiota acerca do uso do termo presidenta, documentado na língua desde 1812. Polêmica falsa porque, de fato, nunca esteve em jogo o tal “amor à língua portuguesa” (como disse, com ar boboca, a ministra Cármen Lúcia, ao se tornar presidenta do STF), mas a mais clara e límpida misoginia, aliada ao reacionarismo visceral da camada letrada da sociedade brasileira (uma mulher na presidência? Yahweh nos livre e guarde!). Misoginia que viceja, aliás, em boas porções da esquerda brasileira (majoritariamente masculina, branca e heterossexual).
Ainda segundo Lygia Maria, a ideia de que a língua segrega e ofende é uma “visão apriorística [que] desconsidera os contextos de interação na produção de sentido”. E complementa: “A mera expressão ‘Bom dia a todos’ não me agride como mulher, já que o masculino no português é genérico”. O sentimento de uma só pessoa deve servir de régua para todo o resto da sociedade? Se ela não se sente agredida, good for her! O curioso é que, depois de fazer essa declaração, ela escreve: “A língua não gira em torno dos indivíduos”. Oxente! Se não gira, por que foi que deu aquele depoimento, individualíssimo, sobre o que sente ou não? E questão principal: por que a forma no masculino tem sentido genérico em português e nas demais línguas românicas? Porque era assim em latim. Tá, mas por que era assim em latim? As estruturas de uma língua não brotam do chão nem caem do céu — são humanas, demasiadamente humanas. Basta lembrar que havia em latim as palavras vir (“ser humano do sexo masculino”, de onde o adjetivo viril e o substantivo virtude, que fala por si) e homo (“ser humano em geral”). Mas como o ser humano do sexo masculino logo foi identificado como o modelo, o protótipo e o arquétipo da espécie humana, o termo homo se generalizou para designar tanto o macho quanto a espécie humana (até na terminologia científica: Homo sapiens). Do acusativo dessa palavra, homine-, é que provém o português homem, e seus equivalentes em outras línguas românicas.
A língua, no mesmo artigo, é definida como “a história secular de uma sociedade, que foi construída com o trabalho criativo de escritores e de manifestações populares”. A formação linguística de uma sociedade nem de longe é o “trabalho criativo de escritores”, que sempre constituíram uma ínfima minoria da população, nem tem a ver com meras “manifestações populares” (seja isso o que for). São as e os falantes, todas e todos, letradas e não letradas, que, em suas múltiplas interações diárias por meio da linguagem, configuram, desfiguram e reconfiguram a língua. Mais da metade das quase 7.000 línguas faladas no mundo não contam com “o trabalho criativo dos escritores”, porque não dispõem de tradição escrita, mas nem por isso deixam de ser línguas de pleno direito, sujeitas a toda sorte de variação e mudança e dotadas de grande complexidade.
Outra concepção tradicional é a de que “toda língua muda, sim, mas lentamente e não a partir de imposições de desejos de grupos ou do Estado”. Sinto informar: a língua também muda pela ação de grupos sociais ou de instituições estatais, principalmente na nossa era de celebridades e influencers. Essa ação se chama glotopolítica. Para quem quiser se informar a respeito recomendo o livro de Xoán Carlos Lagares, Qual política linguística? Desafios glotopolíticos contemporâneos (Parábola Editorial, 2017, https://www.parabolaeditorial.com.br/qualpoliticalinguistica) e o recém-lançado Língua e política. Conceitos e casos no espaço da América do Sul, de Maria Teresa Celada e Adrián Pablo Fanjul (Edusp, 2022).
Quando eu era criança, adorava assistir o seriado A Feiticeira (Bewitched). A primeira temporada do seriado rolou em 1964 (a última, em 1972). Eu nunca entendia por que a personagem-título se apresentava como “Senhora James Stephens” (“Mrs. Darrin Stephens”) e não como Samantha Stephens, que era seu nome. Isso seria absolutamente impensável nos dias de hoje. A diferença entre senhora (a mulher casada) e senhorita (a mulher solteira) foi banida desde então. O famoso romance Éramos seis (1943) apareceu, em suas primeiras edições, tendo como autora a “Sra. Leandro Dupré”. Só mais tarde é que viria assinado por Maria José Dupré (1898-1984). Se isso causa espanto e indignação nos dias de hoje (pelo menos em muitas pessoas), é graças à luta política das mulheres por seus direitos, incluindo o direito de usarem o próprio nome e serem chamadas por títulos no feminino. Grupos sociais alteram, sim, os usos da língua.
Quanto aos Estados, eles podem interferir (e pululam exemplos na história) não só na “língua em si” — impondo determinados usos, proibindo outros etc. —, como também no status sociopolítico das línguas, decretando uma ou mais línguas como oficiais, reprimindo o uso de línguas, às vezes até com o aniquilamento físico das e dos falantes (a história das línguas indígenas do Brasil é uma longa e terrível coleção dessas tragédias). Que outra coisa é a norma-padrão prescrita pela tradição gramatical senão uma interferência direta de um restrito grupo social (masculino, de novo, os barões doutos, como escreveu em 1540 o gramático português João de Barros) para regrar e regulamentar os usos linguísticos? Em países como a Espanha e a França existem instituições vinculadas ao Estado — as academias de língua — que exercem forte pressão social sobre os usos idiomáticos, com pesada influência no ensino. Já na contramão da tradição autoritária e repressiva daquelas academias, a Academia Sueca da Língua incluiu, no ano de 2015, em seu glossário oficial, a forma hen, pronome neutro de 3ª pessoa que vem se juntar a hon (feminino) e han (masculino). É de novo o Estado intervindo na mudança linguística, pressionado por usos que datam da década de 1960. No Quebec, região de maioria francófona no Canadá, a instituição estatal que se ocupa da língua (Office québecois de la langue française) traz explicações pormenorizadas em seu site sobre como produzir redação epicena, formulação neutra e redação não binária (https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca). Democracia também é ter sensibilidade para com as demandas linguísticas das pessoas, por menor que seja seu número.
A noção de que a língua muda “por conta própria”, como se fosse uma coisa-em-si, obscurece o fato de que são as e os falantes que mudam a língua, porque ela não existe fora delas e deles, como uma entidade abstrata ou um “organismo vivo”. E como a sociedade é estratificada em classes e grupos sociais, em gêneros e raças, hierarquizada com base nisso, cada classe ou grupo social exerce, com maior ou menor sucesso, seu papel na mudança linguística. A luta contra palavras de teor racista, por exemplo, também reflete essa dinâmica, incluída aí a falta de fundamento linguístico seguro para censurar o uso de determinados vocábulos. Mas mesmo certas etimologias errôneas ou análises históricas equivocadas constituem casos claros da ação de um grupo social sobre os usos da língua (a tal ponto que muitas lojas brasileiras baniram o termo criado-mudo e só falam de mesa de cabeceira, assim como escravizada/escravizado vem substituindo escrava/escravo).
Alegando que a questão da linguagem neutra “não é unanimidade entre os especialistas”, o que é fato, Lygia Maria afirma que “alterar regras de gênero é como alterar a formação do plural e a conjugação dos verbos”. Não. A morfologia do plural e os paradigmas verbais são elementos extremamente abstratos, ao passo que a categoria gramatical de gênero se vincula ao aspecto sociobiológico do sexo das pessoas e ao aspecto sociocultural do gênero e das orientações sexuais. Quando um menino é chamado de mulherzinha, o feminino (junto com o diminutivo) tem uma função óbvia de depreciação e violência simbólica (que pode se degenerar em violência física, eu que o diga). Quando homens gays se tratam no feminino, chamando-se reciprocamente de “a senhora” e fazendo todas as concordâncias de gênero (“eu tô exausta!”), entram em jogo a autoironia, a desconstrução da normatividade masculina, a criação de laços de solidariedade de grupo, entre outras muitas coisas. Por isso é que ninguém cogita de uma alteração dos morfemas de plural ou das desinências verbais, mas muita gente reivindica modificações na morfologia de gênero. Aqui, sim, o gênero gramatical e o gênero construto social se interseccionam. Quando, em minhas palestras, eu me chamo de professora e me refiro a mim mesma no feminino, o zunzum da plateia é exatamente o que estou querendo provocar, algo impossível de fazer com o -s do plural ou o -ava do pretérito imperfeito.
Por fim, ainda no campo dos equívocos, lemos que “mais do que resolver problemas sociais, o objetivo da língua é facilitar o fluxo cognitivo e comunicativo”. De novo, nunca é demais insistir, a língua não tem “objetivo” nenhum: nós, falantes, é que realizamos atividades linguísticas para determinados fins e, principalmente, vejam só, para resolver problemas sociais, entre os quais, vejam só de novo, facilitar o fluxo cognitivo e comunicativo e também, claro, para dificultar esse fluxo. Afinal, quantas vezes nos valemos da linguagem para ocultar, dissimular, mentir, ludibriar, engambelar etc. etc. etc.?
O texto conclui com a reivindicação justíssima de que é preciso “investir no ensino da língua portuguesa, que permite acesso ao conhecimento”, já que no Brasil “cerca de 70% dos jovens não sabem interpretar textos”. Mas não é preciso aceitar o argumento da autora de que, diante desse quadro, “a demanda pela linguagem neutra soa um tanto elitista”, já que a população não binária representaria apenas 1,2% da população total do país. Investir na educação e debater a linguagem neutra não são coisas que se opõem, até porque se trata, no primeiro caso, de um amplo, demorado e custoso projeto de Estado, enquanto no segundo não se gasta um tostão. Há reivindicações elitistas muito mais problemáticas e até nocivas à sociedade, como a manutenção da taxa de juros em 13,75%, que favorece apenas um punhado de bilionários rentistas e sabota o crescimento do país.
Tanto quanto eu saiba, as pessoas que reivindicam uma linguagem neutra não querem impor nada, não querem obrigar ninguém a usar essa linguagem. Se assim fizessem, estariam ferindo a regra básica do convívio democrático, que é o respeito à diversidade, a aceitação das diferenças. Para mim, o uso da linguagem neutra entra no mesmo caso do “se você é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, não se case com uma, mas deixe em paz quem quer se casar”. Mas a reivindicação pacífica de novas formas de marcação gramatical de gênero vem sofrendo ataques sistemáticos da parte dos representantes do espectro fascista, o que tem tido como consequência as dezenas de projetos de lei que visam “proibir” a linguagem neutra nas esferas municipais e estaduais. Essa gente não foi eleita para tentar melhorar a vida de seus municípios e estados, para se ocupar da saúde, da educação, do emprego etc., mas para promover uma guerra cultural permanente contra tudo o que signifique uma democratização mínima da sociedade. Esse quadro político obriga as pessoas progressistas a apoiar os esforços de quem reivindica a linguagem neutra — nem que seja, e já é muita coisa, para tentar barrar a expansão do fascismo entre nós.
Ortografia não é língua!
Marcos Bagno Terça, 18 Abril 2023

Início de janeiro, uma amiga compartilhou um meme que dizia assim:
“Vamos parar de falar de política e falar de gramática? Aprenda a diferença entre
empoçado [um patriotário chafurdando na lama depois de um temporal] e empossado [Lula]”.
Por pura implicância jocosa (para isso servem as amigas), eu escrevi que era muito engraçado mesmo, só que não se tratava de gramática, mas de ortografia. Foi a deixa para que eu ficasse empoçado em comentários. Uma pessoa insistiu:
“A ortografia faz parte da gramática”.
Eu retruquei:
“Faz nada!”.
Ela revidou:
“Faz sim!”
Como não dá para explicar quase nada em comentários de rede social, aqui vai (espero) algum esclarecimento.
Vivemos numa cultura grafocêntrica, isto é, numa cultura em que a escrita exerce um papel central na vida diária das pessoas. Mesmo as analfabetas estão imersas nessa cultura, porque têm de pegar ônibus, fazer compras, lidar com dinheiro, cartão de banco, documentos, boletos, embalagens, ícones do telefone celular etc. A escrita está presente na vida delas o tempo todo, tanto quanto na das pessoas alfabetizadas. Aliás, justamente por isso, as especialistas no tema dizem que existem pessoas analfabetas, sim, mas não pessoas iletradas, já que todas têm de aprender a interagir a todo momento (com maior ou menor desenvoltura) com a letra, ou seja, com a escrita. Nós também nos movemos no interior daquilo que se chama paisagem linguística. Por onde andamos, no meio urbano e também fora dele (dentro de um avião, por exemplo), estamos rodeadas de cartazes, letreiros de lojas, sinalização de trânsito, painéis de elevadores, publicidade colada nos postes, instruções escritas no asfalto, numeração das casas, folheto de cartomante, placas com nomes de ruas, inscrições em veículos etc. A paisagem linguística é objeto de conflitos em sociedades plurilíngues, onde os grupos de falantes de línguas minorizadas lutam para que todo esse universo de escrita também esteja grafado em sua língua não hegemônica. No Canadá, por exemplo, tudo o que chega às mãos da população tem de vir, obrigatoriamente, por lei, escrito em inglês e francês, assim como, na Bélgica, em neerlandês e francês. Na Finlândia (eu estive lá e descobri), a paisagem linguística se desdobra em finlandês e em sueco (ainda que o sueco seja falado por apenas 5% da população). Em alguns países que não usam o alfabeto latino, como o Japão, a China e países árabes, a paisagem linguística se estampa cada vez mais na língua local e em inglês. Esse impacto da escrita na nossa vida em sociedade é tamanho que para muitas pessoas é difícil pensar em “língua” sem pensar imediatamente em “escrita”, quando não acham que são sinônimos! Mas não são.
Para essa enganosa sinonímia contribui muito o processo de escolarização. Mesmo sendo precário e quase indigente no Brasil, o ensino institucionalizado de língua se faz, evidentemente, por meio da escrita e da leitura do que está escrito. Isso explica, por exemplo, por que a grande maioria do que se chama “erro de português” é, na verdade, mero erro de ortografia:
“Credo, o e-mail de fulano está cheio de erros de português”.
Vai ver, são basicamente erros de ortografia. Quando ouvimos alguém dizer [kizɛh], não temos a menor ideia de se, na hora de escrever, ela vai grafar quiser, com , ou quizer, com e fizer, com
Quando, na linguística, falamos de língua, o que temos em mente é um conjunto de regularidades que permitem o funcionamento de um modo de falar presente numa dada comunidade humana: os sons que compõem esse idioma, a combinação deles, a morfologia e a sintaxe (ou seja, a gramática), as formas variantes que as e os falantes têm de dizer a mesma coisa (uma “pôça” ou uma “póça” d’água, por exemplo, é algo que independe da ortografia, que é poça para os dois casos, mas de fatores sociais variáveis, como a origem geográfica da pessoa) etc. É assim que aplicamos o rótulo de língua aos modos de falar de centenas de etnias indígenas diferentes, muito embora elas não tenham uma tradição escrita originária — são as pesquisadoras, antropólogas e linguistas, que, para empreender seus estudos, colocam no papel essas línguas, usando convenções gráficas que jamais passaram pela cabeça de quem as fala. Se nós escrevemos tupi, é porque falamos português. Se o Brasil tivesse sido invadido e colonizado por ingleses, por exemplo, o nome dessa etnia e de sua língua provavelmente seria escrito Toopee; se por franceses, toupi ou algo assim. Se fossem russos, nem sequer usariam o alfabeto latino… E nunca é demais lembrar: existem muitas centenas de línguas faladas no mundo hoje que não têm forma escrita, existem exclusivamente na forma oral — são as chamadas línguas ágrafas. No Brasil mesmo, passam de cem. São ágrafas, mas são línguas, em todos os sentidos da palavra.
Ortografia não é língua, ok. Mas é gramática? A resposta depende do que se entende por gramática. A grandíssima maioria das pessoas entende “gramática” como “livro de gramática”, uma obra que contém supostamente tudo o que existe na língua e, principalmente, tudo o que é “certo”. Assim, se o livro chamado “gramática” tem um capítulo que trata da ortografia, então a ortografia faz parte da gramática (foi disso que tentou me convencer a pessoa que me retrucou). Na ciência linguística, no entanto, gramática é um termo que desgina “todo o sistema e estrutura de uma língua ou das línguas em geral, habitualmente considerado como constituído de sintaxe e morfologia (incluindo flexões) e às vezes também fonologia e semântica”, conforme define o famoso dicionário Oxford da língua inglesa (pensei em usar a definição de um conhecido dicionário brasileiro, mas topei com um “estudo sistemático ... do sistema” e desisti).
Assim, para a teoria linguística, tanto “tu foi” quanto “tu foste” são regras da gramática do português brasileiro, assim como “as mesa pequena” e “as mesas pequenas”, para citar só esses mínimos exemplos. Significa que tudo o que é possível encontrar nos usos autênticos das pessoas que falam uma língua pertence à gramática dessa língua — e tudo o que é possível encontrar nesses usos pode ser sistematizado em regras. Sim, existe uma regra (cognitiva) que governa “as mesa pequena ficou lá fora”: se as gramáticas normativas não apresentam essa regra, o problema é delas. Observe que, na definição do dicionário Oxford, não aparece letra, pontuação, divisão silábica, acentuação gráfica… nada do que constitui o modo de escrever a língua. Por quê? Ora, porque a forma de escrever uma língua (e, principalmente, sua ortografia oficial) não faz parte da gramática dessa língua. Se eu enviar uma mensagem escrita assim: “quandu vossê xegá in caza, mi aviza”, a ortografia está errada, mas a gramática está perfeita, tanto que, lida em voz alta, qualquer falante de português brasileiro vai reconhecer ali sua língua.
No final da década de 1920, o presidente da Turquia, Mustafa Kemal (cognominado Atatürk, “pai dos turcos”), num ambicioso projeto de modernização e aproximação do país ao Ocidente, decidiu que a língua turca (que usava o sistema de escrita árabe fazia mil anos) passaria a ser escrita com o alfabeto latino. Todas as regras ortográficas em vigor até então foram jogadas fora e substituídas por novas. Isso alterou a gramática do turco, sua fonologia, sua morfologia, sua sintaxe etc.? Em nada. A população turca continuou falando a língua tal como falava na véspera, só que passou a ter de escrevê-la de outro modo. O mesmo aconteceu com o vietnamita em 1918, que adotou o alfabeto latino depois de mil anos de uso do sistema de escrita chinês. Essas e outras histórias são contadas no excelente livro de Florian Coulmas, Escrita e sociedade (Parábola). Aliás, faço uma detalhada apresentação dessa obra neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=x3TOzMwURoU&t=200s.
Nas discussões em torno do meme que resolvi comentar, uma pessoa me perguntou se era adequado então usar a expressão “língua escrita”. A rigor, não é adequado. Fala e escrita são modalidades de uso da língua, com especificidades, diferenças e semelhanças, mas são modalidades de uso da mesma língua. No entanto, e repetindo, como vivemos numa cultura grafocêntrica, a escrita goza de um prestígio social muito mais elevado do que a fala:
“O que ele diz não se escreve”.
“Quero tudo preto no branco.”
Verba volant, scripta manent (“as palavras faladas voam, as escritas permanecem”).
Esses são alguns exemplos de como a crença na superioridade da escrita está bem enraizada. Daí a ideia de achar que fala e escrita são “línguas” diferentes. Não são.
A ortografia é uma decisão política, está regulamentada por lei, de modo que podemos, sim, dizer que existe erro de ortografia, mesmo sendo uma lei que não prevê sanções contra seu descumprimento. Por sua vez, a gramática (no sentido que se dá ao termo em linguística), seja de que língua for, não tem a mais remota possibilidade de ser regulamentada por lei, muito embora tanta gente acredite que os manuais de gramática normativa têm de ser seguidos à risca, como códigos penais. Não têm. Os usos da língua são múltiplos e variáveis, se transformam ao longo do tempo, o que provoca mudanças na gramática, mudanças às vezes acompanhadas pela ortografia oficial (como no caso do português, com tantas e obsessivas reformas ortográficas ao longo do século 20), às vezes não. O inglês conserva praticamente inalterada a ortografia (uma das mais irracionais do mundo) fixada no final do século 16, apesar de todas as transformações ocorridas desde então na fonologia e na morfossintaxe da língua. É isso que permite que as palavras jail e gaol (ambas significando “prisão”) tenham a mesma pronúncia!
A eficácia do ensino-aprendizagem da ortografia não depende do sistema de escrita nem da maior ou menor racionalidade de suas regras. O português tem uma ortografia bastante razoável no que diz respeito à relação letra-som, mas, com exceção de Portugal, os demais países que têm o português como língua oficial apresentam baixíssimos níveis de letramento de suas populações, incluindo o Brasil, em que o número de pessoas analfabetas funcionais ultrapassa facilmente os cem milhões (entre as quais, evidentemente, as pessoas que padecem de fome ou vivem na insegurança alimentar). Em contrapartida, o Reino Unido, que tem o inglês como língua de ensino, apresenta um índice de alfabetização superior a 99% de sua população de quase 68 milhões. O Sri Lanka, país em que se usa um sistema de escrito próprio e muito complexo para a língua cingalesa, tem 98% de sua população letrada. O espanhol tem uma ortografia muito racional e fácil de aprender, mas enquanto Cuba (11 milhões de habitantes) apresenta um índice de alfabetismo que beira os 100%, na Guatemala (17 milhões) 75% da população maior de 15 anos é analfabeta. A ortografia não faz parte da língua, mas oferecer (ou não) à população a oportunidade de aprendê-la para ler e escrever, como é direito de toda pessoa no mundo de hoje, faz parte do tipo de projeto que os diferentes governos têm para suas respectivas nações.
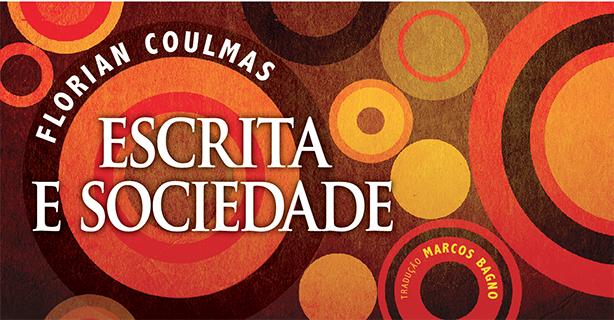
https://www.parabolablog.com.br/index.php/blogs/ortografia-nao-e-lingua-1







