Pesquisa: olhar das comunidades escolares
Pesquisa inédita avalia respostas a ataques a escolas a partir do olhar das comunidades escolares
Estudo “Para lembrar e reagir: desenhando futuros possíveis a partir da ressignificação dos ataques de violência extrema contra escolas no Brasil” é coordenado por Campanha e Flacso-Brasil; apoio é da Terre des Hommes Schweiz
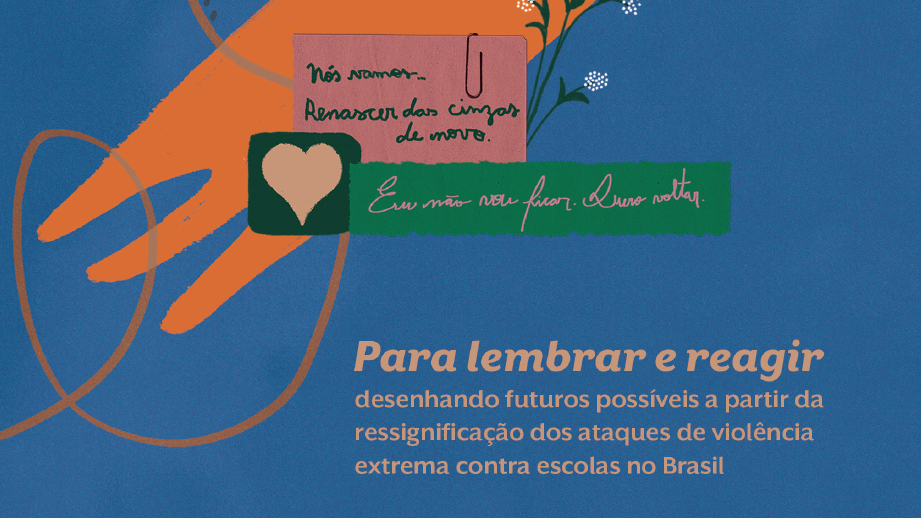
Os massacres escolares que ocorreram nos últimos anos não são eventos isolados ou de causas únicas. Resultam de uma complexa teia de fatores interconectados que envolvem desde aspectos individuais até dinâmicas institucionais e estruturais da sociedade – nas raízes destas dinâmicas está a cultura de ódio misógina, racista, armamentista e de glorificação de violências, além de violências múltiplas no espaço escolar. Mas isso não é novo entre os estudos sobre o tema.
Esse cenário ganha novos contornos quando grande parte das redes de ensino apenas atua na superfície de um problema bem mais profundo: na contenção de crises e ataques, eximindo as escolas de seu papel na gestão democrática, convivência escolar, acolhimento e construção de vínculos comunitários significativos. Na prática, a educação falha em implementar políticas de prevenção, democratização e cuidado eficazes, que são respostas mais sistêmicas, mais profundas, mais duradouras e mais eficazes - não só contra as violências nas escolas mas por uma educação realmente significativa e transformadora.
É o que demonstra a pesquisa “Para lembrar e reagir: desenhando futuros possíveis a partir da ressignificação dos ataques de violência extrema contra escolas no Brasil”, que é coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso-Brasil). O apoio é da Terre des Hommes Schweiz.
A partir do estudo de quatro casos emblemáticos — Realengo (RJ - 2011); em Goiânia (GO - 2017); em Suzano (SP - 2019); e na Vila Sônia (SP - 2023) —, foi possível mapear e categorizar causalidades em grandes eixos temáticos, permitindo uma compreensão mais abrangente e profunda do fenômeno que pesquisas com fontes secundárias – o que havia até então – não conseguem chegar. A partir disso, a pesquisa conseguiu ir além na informação à política pública, garantindo um aprofundamento e refinamento do planejamento Estatal para prevenção e endereçamento da problemática.
Foram realizadas 16 entrevistas semi-estruturadas com sujeitos (vítimas, familiares e profissionais da educação) das respectivas comunidades escolares afetadas, aliadas a análise documental e bibliográfica, para compreender a complexidade dos fenômenos.
A análise das entrevistas foi organizada em quatro dimensões, cada uma abordando aspectos temporais e qualitativos distintos da violência extrema em escolas: “O que foi”, “o que era”, “o que ficou”, e “o que se anuncia”. Essa arquitetura permite compreender os ataques não como episódios isolados, mas como expressões agudas de crises sociais prolongadas.
Achados
A multiplicidade de frentes que precisam atuar em conjunto evidencia que a prevenção de tragédias escolares exige mais do que protocolos de segurança: requer um projeto coletivo de sociedade que reconheça o valor da escola como espaço de cuidado, diálogo, formação ética e construção democrática. Isso implica não apenas em agir após o trauma, mas sobretudo em antecipá-lo por meio de políticas estruturantes e ações preventivas, sustentadas por um compromisso real com a juventude, os direitos humanos e a justiça social.
Sem essas transformações profundas, continuaremos ‘enxugando gelo’, tratando sintomas enquanto as causas estruturais da violência permanecem intocadas.
Os casos analisados demonstram que a violência escolar e violência contra a escola não é um problema isolado, mas resultado de falhas estruturais que exigem ações coordenadas entre educação, saúde, segurança e justiça. Como destacado pelas entrevistadas, "lembrar é reagir, esquecer é permitir" – a memória das vítimas deve ser o alicerce para mudanças concretas.
Os relatos revelam que os ataques citados, embora distintos em seus contextos, têm padrões preocupantes que apontam para falhas sistêmicas na prevenção e no enfrentamento da violência extrema nas escolas, que ainda persistem.
A pesquisa demonstra, com sua análise qualitativa das entrevistas, que esses episódios não são eventos isolados, mas sintomas de problemas estruturais que persistem devido à negligência, à falta de políticas eficazes e à ausência de um olhar integrado sobre segurança, saúde mental e gestão escolar democrática para a convivência escolar.
A violência nas escolas é interpretada como resultado de uma crise prolongada de cuidado, agravada por múltiplas dimensões: desigualdades estruturais, polarização política, normalização da violência, discursos de ódio disseminados nas redes sociais, cultura armamentista e fragilidade das instituições escolares.
Veja abaixo os principais elementos, que servem como informação e recomendação para políticas, encontrados nas narrativas das entrevistas.
O QUE HÁ DE NOVO
- Garantir uma infraestrutura escolar que permita um ambiente dialógico, de gestão democrática (políticas para garantia de conselho escolares, grêmios estudantis e associação de responsáveis) e de convivência escolar; garantir a presença de inspetores (não armados) em um trabalho coletivo com a ronda escolar.
- Implementar sistemas de escuta ativa especializada nas escolas para identificar alunos em risco (isolamento, discurso de ódio, ameaças).
- Implementar educação crítica das mídias, com enfoque no combate à desinformação e ao negacionismo científico, incluindo no currículo escolar e nas formações de profissionais da educação debates sobre discurso de ódio e manipulação digital.
- Envolver pais, mães e responsáveis na observação do comportamento dos filhos assim como no uso de redes sociais.
- Criar comissões de familiares e estudantes para discutir segurança e violência, evitando centralização autoritária.
- Treinar professores e funcionários para reconhecer comportamentos de sofrimento psíquico e/ou violentos e encaminhar casos à saúde mental e assistência social.
- Aplicação de medidas socioeducativas para casos de extremismo violento, assegurando atendimento especializado durante e pós-internação.
- Responsabilizar autoridades que ignoraram alertas prévios e deixaram de prestar serviços sociais de educação, assistência, saúde integral e segurança.
- Evitar a negação do trauma e promover espaços de discussão sobre violência e prevenção.
- Não esquecer: criar monumentos, projetos pedagógicos e eventos que tragam a memória e honrem as vítimas, não os agressores.
- Oferecer suporte prolongado às vítimas, familiares e testemunhas - incluindo apoio/compensação financeira para despesas médicas e outras derivadas.
O QUE JÁ SE SABIA
- Desmembrar e enfrentar a formação e a atuação de subcomunidades de ódio e extremismo, inclusive com ações de apoio aos jovens cooptados por esses grupos.
- Responsabilizar as plataformas digitais sobre a circulação de conteúdo extremista e ilegal.
- Responsabilizar as pessoas que compartilham vídeos de ataques e informações sobre os autores.
- Atualizar as leis sobre crimes de ódio (Lei nº 7.716/1989) e bullying (Lei 13.185/2015).
- Mapear, monitorar e dar encaminhamentos legais e penais a grupos extremistas.
- Ampliar e aperfeiçoar o setor de inteligência sobre crimes de ódio.
- Regular e estabelecer políticas de moderação das redes e mídias sociais com relação a conteúdos que violam direitos humanos.
- Reconhecer e compreender o fenômeno que conecta a juventude aos movimentos supremacistas.
- Promover a cultura de paz.
- Implementar um controle rigoroso sobre a venda, o porte e o uso de armas de fogo e munições.
- Desenvolver ações para monitorar clubes de tiros e similares, proibindo o acesso de crianças e adolescentes a armas e a tais espaços.
- Regulamentar e implementar o Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas (SNAVE - Lei 14.643/2023).
- Criar Comissões de Proteção e Segurança Escolar (públicas e privadas) em escolas e articulá-las ao SNAVE.
- Organizar um banco de dados com informações, pesquisas e análises sobre violências nas escolas e contra as escolas.
- Estabelecer um observatório sobre violências nas escolas.
- Realizar diagnósticos dos contextos de violências nas escolas, considerando especificidades regionais.
- Melhorar a convivência e o ambiente de acolhimento nas instituições educacionais, garantindo infraestrutura física adequada e espaços de interações dialógicas e inclusivas.
- Fortalecer a gestão democrática e a educação antirracista e antidiscriminatória nas escolas públicas e sistemas de ensino.
- Regulamentar a Lei 14.644/2023 (Instituição de Conselhos Escolares e Fóruns de Conselhos Escolares).
- Abrir espaços para que os estudantes dialoguem com seus pares e com adultos, reforçando sua autonomia na construção de estratégias de convivência escolar.
- Fortalecer a participação de crianças e adolescentes, especialmente de grupos historicamente vulnerabilizados, na gestão democrática das escolas.
- Criar mecanismos mais efetivos junto às famílias, sensibilizando e mobilizando-as a agir contra a violência nas escolas.
- Estimular e fortalecer a formação de Grêmios e Coletivos Estudantis, Associações de Pais e Mestres, e Conselhos Escolares.
- Promover Planos de Prevenção e Enfrentamento às Violências Escolares em todas as escolas, com ações de prevenção e protocolos de encaminhamento.
- Promover políticas de saúde mental nas escolas, aumentando os investimentos na expansão e no fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
- Fortalecer os CAPS i (Centros de Apoio Psicossociais Infantojuvenis) para atender crianças e adolescentes encaminhados pelas escolas.
- Implementar a Lei 13.935/2019, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação básica.
- Regulamentar e fortalecer a parceria dos NAPS (Núcleo de Apoio Psicossocial) com as instituições educacionais.
- Desenvolver programas, projetos e ações voltadas para a redução do estigma ligado à saúde mental.
- Fomentar programas de prevenção e promoção em saúde mental, com a presença permanente de psicólogos e orientadores educacionais nas escolas.
- Reinvenção de laços simbólicos nas famílias, nas escolas, na sociedade
- Promover a Educação em Direitos Humanos (EDH) nas escolas e na sociedade.
- Enfrentar o racismo, a misoginia e as diversas discriminações nas escolas e na sociedade.
- Fortalecer as políticas de educação integral, ampliando laços entre escola, família e comunidade.
- Realizar formações para Secretarias de Educação e comunidades escolares sobre violências e enfrentamento do extremismo.
- Adquirir, distribuir e utilizar materiais didáticos e literários que favoreçam reflexões sobre convivência escolar e prevenção da violência.
- Ofertar disciplinas de Ciências Humanas, Filosofia e Sociologia.
- Estabelecer condições para implementação efetiva das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 (História e Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena).
- Elaborar diretrizes, orientações e protocolos adequados à realidade brasileira para atuação após os ataques.
- Acordar com veículos de comunicação e plataformas digitais protocolos sobre a cobertura de casos de violências nas escolas, evitando o efeito contágio.
- Expandir espaços comunitários destinados ao lazer, à socialização, aos esportes e à cultura.
- Garantir que as escolas funcionem com profissionais da educação valorizados, com formações inicial e continuada adequadas e boas condições de trabalho.
- Apoiar os profissionais da educação na elaboração e implementação de planos de ação participativos e interdisciplinares.
- Fortalecer a prática e autonomia docente e a liberdade de cátedra, conforme a Constituição Federal e a LDB.
PADRÕES ENTRE OS CASOS
- O despreparo da comunidade escolar se destaca como um fator agravante do impacto da violência após ela ocorrer. Muitas vezes, as escolas encaminham estudantes e seus profissionais vítimas para atendimento psicológico, mas não há retorno ou acompanhamento efetivo, nem endereçamento da escola em termos pedagógicos e de convivência, como destacou uma mãe no caso de Goiânia: "Não basta encaminhar para o psicólogo. Se não há resposta, o problema persiste." Essa lacuna entre a identificação da problemática e a ação concreta por meio de um atendimento contínuo e sistêmico - também na escola - permite que situações de violência se agravem.
- Há uma negligência generalizada no suporte pós-trauma. As vítimas e suas famílias são frequentemente abandonadas após os ataques, sem apoio psicológico, jurídico ou financeiro adequado - e isso ocorre especialmente com os grupos mais vulnerabilizados e profissionais em situação de precarização do trabalho. Em Vila Sônia, a professora sobrevivente relatou o desrespeito ao receber de volta seus pertences ainda manchados de sangue, simbolizando a falta de acolhimento institucional. Já em Realengo, a luta por justiça e memória mostra como o Estado falha em garantir reparação e políticas preventivas duradouras.
- Em outros casos, a legislação existente – como a lei do bullying – não é aplicada, tornando-se letra morta. A falta de endereçamento criminal adequado e de tratamento para adultos cooptadores e agressores com transtornos ou vinculação a ideologias violentas cria um ciclo perigoso.
NÚMEROS ATUALIZADOS
O Brasil registrou 42 ataques a escolas entre 2002 e fevereiro de 2025, afetando 43 comunidades escolares (o ataque ocorrido em Aracruz atingiu duas escolas). Esses episódios de violência resultaram em 182 vítimas, sendo 53 mortes e 129 feridos. Os dados são de estudo elaborado por integrantes do Grupo de Trabalho de Especialistas em Violências nas Escolas do Ministério da Educação (BRASIL, 2023), sob a relatoria do Prof. Dr. Daniel Cara (Universidade de São Paulo). Foram atualizados os casos que se enquadram em situações de ataque de violência extrema contra escolas no país.
ASSESSORIA DE IMPRENSA
Renan Simão | 11 95857-0824
comunicacao@campanhaeducacao.org.br
(Imagem: recorte de capa do estudo/Samanta Coan)
FONTE:








